Share this
Arão Valoi
A localidade de Nhacutse, situada no Distrito de Chongoene, província de Gaza, parou para prestar homenagem a um dos seus filhos mais ilustres — Adélio — amplamente conhecido por Mulato wa Mutxangana. Jovem artista, empreendedor e, acima de tudo, símbolo de esperança e ascensão social numa província onde a pobreza permanece como denominador comum, ele foi mais do que uma figura pública: foi uma inspiração para muitos jovens.
O trágico acidente de viação, o qual lhe roubou a vida na vizinha África do Sul quando ainda não havia atingido os trinta anos de idade, trouxe consigo, não apenas tristeza, mas também um mar de inquietações. Entre estas, destaca-se uma reflexão urgente sobre o significado do sucesso, os preconceitos sociais enraizados e a sombra persistente da desconfiança que paira sobre aqueles que ousam triunfar demasiado cedo.
A homenagem prestada por empresários como Mabrinhenhe e artistas de diversas origens — entre eles sul-africanos como General Muzka, e músicos moçambicanos como Mr. Xikheto, Yazi, Refila Boy, Mr. Paulo, Félix Jackson, entre outros — bem como por populares oriundos de vários pontos de Gaza e de Maputo, é testemunho inequívoco do impacto que Mulato teve na sua comunidade e para além das fronteiras nacionais.
Como se diz entre os seus conterrâneos de Nhacutse, Mulato era um jovem humilde, de presença marcante e esforço visível. Alcançou com trabalho próprio as bases sociais e económicas que o sustentaram. Investiu no sector musical, nos transportes, e em diversas outras iniciativas empreendedoras. Era movido por sonhos arrojados e uma visão de futuro que transcendia os limites do comum. Mais importante ainda: partilhava o pouco e o muito que tinha. Apoiava jovens aspirantes à carreira musical, patrocinava eventos locais, apoiava o desporto e puxava pela sua terra natal com convicção.
Contudo, bastou a sua morte para que se ouvissem murmúrios que depressa se transformaram em vozes altas e acusatórias: “Terá feito pacto com curandeiros?”
Esta suspeita, infelizmente, recorrente em sociedades de tradição oral rica como a de Gaza, revela um problema mais profundo: a dificuldade de aceitar que o sucesso pode ser fruto de trabalho árduo, inteligência e visão empreendedora, sobretudo quando se trata de jovens oriundos de contextos rurais e economicamente desfavorecidos. A acusação de envolvimento com curandeiros ou pacto com forças ocultas torna-se frequentemente um expediente usado por aqueles que, por inveja ou incompreensão, procuram deslegitimar conquistas alheias.
Não se pode, contudo, ignorar que certos fenómenos sociais causam estranheza: jovens com acesso a bens de luxo, com património considerável, numa idade em que a maioria apenas começa a traçar os alicerces da sua vida adulta. Porém, em Gaza existe um fenómeno migratório consolidado. Muitos jovens partem precocemente para a África do Sul, onde trabalham em minas, construção civil e outros sectores. Alguns regressam com capitais significativos que, se bem geridos, geram riqueza e impacto. Mulato wa Mutxangana poderá muito bem ter sido um destes casos de êxito. A sua vida resumia-se nesse trajecto: Gaza e África do Sul – onde tinha também empreendimentos, incluindo uma marca registada de roupas.
O preconceito estrutural contra o jovem africano bem-sucedido é, na verdade, um reflexo do medo que temos da mudança. Vivemos numa sociedade que glorifica o sofrimento e desconfia da ascensão rápida. Em vez de procurarmos compreender os caminhos, os riscos e as estratégias adoptadas por esses jovens empreendedores, preferimos a explicação mística do “pacto com o mal”.
Esta mentalidade não só mina a esperança, como compromete a possibilidade de surgirem mais “mulatos”. A juventude vê-se aprisionada entre dois extremos: a pobreza que marginaliza e o sucesso que condena. Assim, estamos a formar uma geração céptica em relacção ao seu próprio potencial, refém do julgamento alheio.
O caso de Mulato é um exemplo claro de como tragédias pessoais podem ser instrumentalizadas para reforçar estigmas e estereótipos que não reflectem a totalidade da realidade. É, pois, imperativo reflectir sobre as condições sociais, económicas e culturais que moldam as escolhas individuais e colectivas.
Importa, igualmente, compreender que a busca por soluções rápidas, como o recurso a curandeiros, não é uma particularidade da região de Gaza, mas antes uma reacção compreensível num contexto de desigualdades, precariedade e oportunidades limitadas. É preciso, contudo, distinguir práticas culturais legítimas — profundamente enraizadas nas tradições africanas — do uso indevido destas para justificar enriquecimento ilícito ou ilusório e efémero.
Todavia, analisar acontecimentos desta natureza requer mais do que um olhar superficial sobre os indivíduos envolvidos. Exige um escrutínio atento das estruturas sociais que os rodeiam e condicionam. Sem isso, arriscamo-nos a estigmatizar injustamente um povo inteiro, que tem dado ao País tantos filhos exemplares, trabalhadores e batalhadores.
É urgente que a sociedade moçambicana — e em especial a da Província de Gaza — ressignifique a forma como encara o sucesso. Triunfar enquanto jovem deve ser motivo de inspiração, não de suspeita. O mérito deve ser a primeira hipótese, não o pacto. O espírito empreendedor deve ser celebrado, não temido.
Mulato wa Mutxangana, em vida, legou-nos mais do que empresas e música: deixou-nos um espelho. E nesse espelho vemos o desconforto colectivo perante aquilo que não conseguimos controlar, mas que deveríamos aprender a admirar. Que o seu legado sirva como ponto de partida para um novo olhar sobre os nossos jovens, as suas ambições e os seus triunfos.
Afinal, o único pacto que verdadeiramente importa — e urge firmar — é com a mudança de mentalidade.




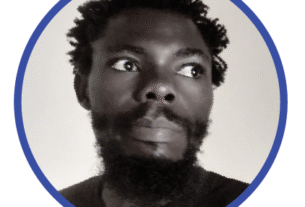

Facebook Comments